“Eu quero entrar na rede para contactar”: o uso (co)formacional do podcast em atos de currículo no componente Literatura, Sociedade e Culturas
Osvaldo Alves de Jesus Júnior
Mestrando em Ciências da Educação (Faculdade Interamericana de Ciências Sociais), especialista em Gênero e Sexualidade na Educação (UFBA), em Educação Digital (UNEB) e em Metodologia do Ensino Superior (Faculdade Batista Brasileira), graduado em Pedagogia (Unopar) e em Letras Vernáculas (UNEB), autor dos livros: BNCC: que axé ela tem?, Educ@ção: senões e pro-posições dialógicas, Epifanias pedagógicas, entre outros, professor do Ensino Médio na rede estadual de ensino da Bahia e no Ensino Fundamental na rede particular
O surgimento e as ramificações das múltiplas tecnologias proporcionaram a criação do que se convencionou denominar, academicamente, ciberespaço. Atrelado a ele, foram desenvolvidas técnicas materiais e intelectuais associadas a atividades e modos de subjetivação, ensejando o surgimento da cibercultura, um constructo sociocultural que erige múltiplos significados, gerando efeitos político-pedagógicos a partir dos usos das redes telemáticas, as quais envolvem conectividades entre as áreas da Informática e da Comunicação (Lévy, 1999; Zanini, 2003).
Diante dessa conjuntura midiático-informacional, cada vez mais ganha relevância social e acadêmica pensar a formação docente e discente a partir de atos de currículo que promovam a inserção e a mediação das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) no cotidiano escolar, primando por pressupostos crítico-reflexivos, dialógicos e alteritários nas (re)construções dos saberes, imbricados em suas multirreferencialidades (Macedo, 2013).
É cediço que os variados contextos da cibercultura apresentam vieses ambíguos, haja vista que os resultados gerados a partir de suas fontes e aparelhos dependem da conduta de quem os pensam e executam. Destarte, pode-se promover a destruição de pessoas e instituições ou, por outro lado, construir caminhos colaborativos em busca da emancipação humana. É fato que, dentro e fora de ambientes escolares, professores(as) e estudantes, atores curriculantes, tiveram seu modus operandi alterado diante dos dispositivos móveis, mormente depois da pandemia da covid-19.
Existem diversos recursos digitais que podem ser (co)construídos em sala de aula (a exemplo do podcast, de vídeos elucidativos, do booktrailer, de cards, slides, games etc.) nos contextos da Educação Básica, de forma a desenvolver o letramento tecnológico previsto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e na Lei nº 14.533, homologada em 11 de janeiro de 2023, a qual recomenda o trabalho com competências digitais (Brasil, 2018; 2023).
Dentre essas ferramentas, destaca-se o podcast, gênero que vem ganhando destaque no mundo hodierno, no qual prevalece a primazia da imagem e de ferramentas interativas, incentivando pessoas a manifestar suas opiniões e ideias, promovendo agenciamentos sociotécnicos em torno de conhecimentos relevantes no cotidiano (Bontempo, 2021).
O podcast envolve a produção de materiais digitais, sejam eles no formato de áudio, vídeo, texto ou imagem, sendo publicado e distribuído nas malhas da internet. O termo surgiu da junção de dois verbetes: iPod, um equipamento desenvolvido pela Apple, e broadcast, uma emissão radiofônica. Consoante Silva e Teixeira (2010, p. 257), essa “tecnologia teve início em 2004, quando o ex-VJ da MTV Adam Curry e o programador Dave Winer criaram um software que permitia descarregar [...] transmissões de rádio [...] para os seus iPods”.
Pensar a respeito da formação educacional se configura como importante, haja vista que, no mundo digital, a ausência de ética e de atitudes crítico-reflexivas podem provocar uma série de desafios, tanto para professores(as) quanto para o corpo discente. Nesse sentido, buscou-se esquadrinhar a seguinte questão norteadora: de que forma o tecnogênero podcast pode fortalecer, do ponto de vista (co)formacional, atos de currículo das aulas entretecidas no componente Literatura, Sociedade e Culturas?
O presente artigo tem como escopo analisar a importância (co)formativa do podcast em contextos da Educação Básica. De forma complementar, buscou-se:
- Conhecer os procedimentos metodológicos para se publicar um podcast na internet;
- Fomentar a interseção entre literatura e dispositivos/gêneros textuais tecnológicos;
- Promover reflexões críticas em torno dos usos éticos e qualificados de uma mídia digital.
A tessitura deste artigo acadêmico envolve, a priori, itinerâncias de um sujeito-pesquisador-professor imbricado nos espaçostempos ubíquos da cibercultura, a partir de um relato de experiência (co)construído com estudantes, tendo em vista as oportunidades sociotécnicas que emergem através da conexão com a rede mundial de computadores, possibilitando contributos político-pedagógicos para a educação do século XXI.
Destaca-se que, em excertos deste texto, algumas palavras foram grafadas juntas e em itálico para se contrapor à razão positivista que costuma permear a ciência moderna, a qual ainda resvala em ambientes e textos educacionais, em consonância com os estudos de Alves (2010).
O título escolhido faz alusão a uma música de Gilberto Gil gravada em 1997, na qual, de forma poética e lúdica, tece-se elogios à techné e sua capilaridade rápida, capaz de fazer os indivíduos navegarem na “vazante da informaré” (Gil, 2022, p. 362).
Escolheu-se, de forma intencional, o primeiro verso da sexta estrofe do poema, na qual o eu-lírico sinaliza sua vontade de entrar na rede virtual para estabelecer contatos. Nesse sentido, encontrou-se uma situação semelhante na produção de podcasts por estudantes da Educação Básica, desenvolvendo, além da competência geral “Comunicação” disposta na BNCC, o letramento digital em atos de currículo e a (co)formação ético-político-crítica, na medida em que se fomentou a partilha de informações e tarefas, a fim de se promover a valorização da cultura local por meio do estudo dialógico dos(as) autores(as) que a compõem.
O tecnogênero podcast em atos de currículo: letramento digital e reverberações generativas na prática escolar
Educar é, substantivamente, formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado (Freire, 2010, p. 33).
É cediço que o uso ético e qualificado das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) pode favorecer significativamente o trabalho político-pedagógico entretecido nas salas de aula da Educação Básica, tornando os momentos de (re)construção de saberes ainda mais fecundos, dinâmicos e interativos. Além disso, é função da escola fomentar o letramento digital e o trabalho colaborativo, formando indivíduos para pensar e agir dentro dos mo(vi)mentos da cibercultura (Zacharias, 2016).
Tais usos vêm sendo fomentados, no campo educacional, por diversos documentos relativos ao currículo, a exemplo da BNCC e de outras diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), bem como pelos sistemas estaduais e municipais de ensino, a fim de educar estudantes que sejam capazes de mergulhar nas redes, sabendo, de forma crítico-reflexiva, lidar com a “infodemia” que permeia os tempos hodiernos, os quais demandam, dentre outras competências, a necessidade de colocar em prática a ideia de “vigilância epistemológica”, selecionando o que pode favorecer o desenvolvimento da humanidade (Duarte; Garcia, 2020).
Jesus (2014, p. 19) corrobora essas sinalizações ao mencionar que “a utilização de tecnologias da informação e comunicação nos processos educativos permite o surgimento de novos espaços de ensinar e aprender diferentes dos espaços convencionais”.
Em contextos brasileiros, o primeiro podcast foi criado como parte de um blog, em 2004, por Danilo Medeiros (Carvalho; Oliveira; Oliveira, 2020). Além disso, deve-se mencionar que o passo inaugural se deu com o projeto PodEscola, com o objetivo de formar estudantes mais críticos e reflexivos dentro da cultura digital. Consoante Freire (2017, p. 65), os usos dessa tecnologia pela educação formal se tornaram mais evidentes, “se considerados os números de experiências escolares desenvolvidas no Brasil em comparação a um país de menores dimensões, como Portugal”, um ponto positivo, tendo em vista a forte presença da cultura oral em contextos brasileiros.
Em 2005, o termo ganhou o título de “palavra do ano” pelo dicionário New Oxford American, além de ter sido instituída a Associação Brasileira de Podcast (ABPod). Em 2008, devido à criação de prêmios, esse recurso ganhou mais visibilidade. Nesse mesmo ano, realizou-se a Podpesquisa, a fim de construir uma representação sobre seus usos em contextos brasileiros (Freire, 2017).
Essa tecnologia vem passando por potenciais (re)elaborações, fazendo uso também de vídeos. Historicamente,
por volta dos anos 2000, a incursão de audioblogs emergiu de forma natural. [...] Tratava, originalmente, da disponibilização em formato MP3 de gravações em áudio relativas aos conteúdos das postagens nos blogs. Dessa feita, aproximava-se da dimensão educacional dos blogs. No âmbito técnico, a limitação do sistema RSS a materiais em texto acabava por impossibilitar os audioblogs de gozarem da possibilidade de assinatura, obrigando, desse modo, seus usuários a acessar as páginas dos blogs para download daquelas produções (Freire, 2017, p. 60).
Neste artigo, concebe-se o podcast na condição de tecnogênero, por ser “dotado de uma dimensão compósita derivada de uma coconstituição do linguageiro e do tecnológico” (Paveau, 2021, p. 328), ou seja, trata-se de um recurso emergente e discursivo ambientado em contextos tecnológicos, contemplando os seis traços propostos por Paveau (2021): imbricação homem-máquina, existência de socioleto ligado ao contexto no qual circula, linhagens genéricas reconhecíveis além das inovações tecnológicas, explicitação de normas, proximidade entre a prática e a norma, e interação leitura-escrita.
Deve-se sinalizar que uma das ferramentas que podem auxiliar professores(as) em sala de aula é o tecnogênero podcast, o qual pode ser utilizado para divulgar informações, entrevistas com escritores(as), personalidades públicas e palestras, contribuindo para o processo de democratização de saberes na podosfera, constructo urdido para se referir ao conjunto de produções da tecnologia mencionada (Freire, 2015; Silva; Teixeira, 2010).
O podcast costuma ancorar debates que geralmente são ignorados em outros âmbitos, contribuindo para estimular novas formas de expressão, inclusive para pessoas com necessidades educacionais especiais. Ademais, é válida a sinalização de que, embora existam as destinadas apenas à veiculação de músicas, a maioria das produções se realiza “por meio de falas dos participantes, promovendo exposições de conteúdos, relatos de acontecimento, bate-papos ou debates informativos” (Freire, 2015, p. 1.038).
Outro ponto positivo da inserção de podcasts em atos de currículo é a viabilidade financeira, porquanto é possível produzi-lo e disponibilizá-lo sem custos em softwares simples de serem manuseados. Além disso, sua construção pode ser viabilizada de forma individual ou em grupo, sendo esta última alternativa mais recomendada, haja vista o seu potencial para fomentar vivências democráticas.
A expressão “atos de currículo” exarada neste artigo foi concebida por Macedo (2013) para fazer referência aos contextos (co)formativos nos quais todos os sujeitos curriculantes instituem modos de ser e de agir, o que coloca esse constructo em condição epistemológica, cultural e político-pedagógica. Trata-se de um conceito-dispositivo instituído a partir de diálogos com Mikhail Bakhtin, Harold Garfinkel e Jacques Ardoino.
Deve-se comentar que as tecnologias e seus múltiplos desdobramentos ajudam na “reinvenção” da escola, pois são capazes de criar outras comunidades de aprendizagem, socializando, dentro dos atos de currículo, culturas de maneiras diferenciadas (Silva; Teixeira, 2010).
Ao construir o que denominou “breve história do podcast”, Freire (2017) advertiu que essa tecnologia apresenta significativos potenciais e implicações educativas, não obstante sua origem remeta a contextos não formais de ensino, fazendo usos de falas, músicas, simultaneamente ou não, para informar ou entreter, ampliando os espaços e tempos educacionais.
Uma pesquisa recente desenvolvida por Celarino et al. (2023) mostrou que tentativas de utilização do podcast em ambientes educacionais aumentaram de forma célere no período que compreende 2013 a 2020. Além disso, dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil evidenciam que “ouvir podcast foi a atividade cultural investigada que mais cresceu na pandemia, alcançando 28% dos usuários em 2021, um aumento de 15 pontos percentuais em relação a 2015” (CGI, 2021, p. 26).
Por fim, é válido salientar que os podcasts, se bem construídos e mediados em sala de aula, contribuem para erguer uma sociedade em rede, “superando os estágios iniciais da internet, em que o acesso se dava de maneira muito mais unidirecional, em que o usuário fazia uma pesquisa na web, mas pouco interagia com ela” (Celarino et al., 2023, p. 4).
Veredas epistemetodológicas
Foi a partir do conceito de “glocalização”, disponível em um artigo escrito por Silva e Teixeira (2010), que surgiu a ideia para socializar culturas locais por meio de um podcast, tornando as aulas mais dinâmicas e estimulando aprendizagens por vias comunicativas do ciberespaço.
Por estar submerso nos contextos da Educação Básica, optou-se por convidar os/as estudantes a construir podcasts contendo uma entrevista com um(a) autor(a) local, porque a ação político-pedagógica se deu no componente curricular Literatura, Sociedade e Culturas, mediado em uma escola da rede privada da cidade de Ribeira do Pombal, localizada no interior da Bahia, vinculada ao Núcleo Territorial de Educação nº 17, situado no mesmo município (Ceai, 2021).
Trata-se de uma investigação de viés qualitativo, porquanto apresenta nuances descritivas e se interessa mais pelo processo e seus significados do que pelos simples resultados gerados. Foi desenvolvida por meio de uma pesquisa-ação, que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 292), “consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo de promover mudanças sociais”. Ademais, para construção deste artigo, fez-se uso da pesquisa bibliográfica.
A fim de alcançar os objetivos propostos, solicitou-se uma autorização da escola para desenvolver uma atividade com os(as) discentes das turmas do 8º ano do Ensino Fundamental, os(as) quais compõem o público-alvo da pesquisa-ação. Depois de apresentado o prospecto formativo à direção e à coordenação pedagógica da instituição, no mês de setembro de 2023, obteve-se aprovação para realizar a intervenção.
A construção dos podcasts foi realizada a partir de três momentos complementares. No primeiro, houve uma explanação dialógica sobre o conceito e a finalidade do gênero aos/às discentes, bem como a apresentação de um tutorial contendo possíveis caminhos e os suportes para gravá-los e hospedá-los no Spotify. No segundo, destinou-se um momento para orientação do roteiro de entrevista ao(à) escritor(a) local, observando se havia alguma pergunta invasiva ou imprópria que necessitasse de alteração ou exclusão. Por fim, houve a socialização comentada dos trabalhos produzidos pelos(as) estudantes.
Os dados foram registrados por meio de fotos e da hospedagem dos podcasts no Spotify, o que possibilita a escuta por parte de diversos sujeitos. Ao revisitar tais informações, foi possível construir a etapa de análise dos dados, fazendo conexões com o aporte teórico-epistemológico arregimentado aqui.
Etapas de produção da mídia pelos(as) estudantes e análise dos dados
Produzir uma mídia com finalidades pedagógicas requer a existência de um trabalho crítico e colaborativo que envolva um planejamento exequível. Nesse sentido, em contextos educacionais, é possível que estudantes e professores(as) assumam o compromisso ético-político de querer “entrar na rede, promover um debate, juntar via internet” (Gil, 2022, p. 362), como bem ressaltam os versos da letra de uma canção composta por Gilberto Gil, uma vez que comunicar, dentro dessa perspectiva, é um ato educativo com reverberações nos processos de ensino e aprendizagem (Freire, 1996).
O componente Literatura, Sociedade e Culturas integra a parte diversificada do currículo escolar do Centro Educacional Arco-Íris, sendo concebido, no projeto político-pedagógico da instituição, como uma vereda necessária na/para a valorização das produções locais que costumam ser desconsideradas ou excluídas de um trabalho educativo, fato que contribui para erguer uma sociedade na qual a alteridade, as diferenças e os fazeres/pensares gestados nos espaços nos quais se tecem experiências de vida sejam valorados, erroneamente, como “insignificantes” ou “desnecessários” (Ceai, 2021).
A criação de podcasts é contemplada e valorizada no corpus textual da BNCC, documento normativo que enfatiza aprendizagens “essenciais” aos(às) estudantes brasileiros, haja vista a necessidade de estimular o desenvolvimento de habilidades multimidiáticas e multissemióticas, orais e escritas, nas diversas práticas de linguagem existentes no mundo contemporâneo. No que diz respeito, por exemplo, aos anos finais do Ensino Fundamental, o componente Língua Portuguesa menciona a necessidade de levar o corpo discente a:
- Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião [...], orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de produção e demonstrando domínio dos gêneros (Brasil, 2018, p. 143).
- Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica, [...] podcasts [...] de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros (Brasil, 2018, p. 151).
- Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros (Brasil, 2018, p. 153).
As habilidades mencionadas (nº 10, 29 e 37, respectivamente) devem constar no planejamento e nas práticas pedagógicas do 6º ao 9º ano. Nesse sentido, elas foram utilizadas em atos de currículo de outro componente da parte diversificada, haja vista as relações de contiguidade e o escopo pedagógico aqui destacado.
Antes de iniciar as atividades em sala de aula, foi apresentada, no final de setembro de 2023, uma proposta de pesquisa-ação à entidade mantenedora e à coordenação pedagógica da escola, a fim de obter autorização para o desenvolvimento do trabalho formativo. Nesse sentido, foram destacadas as finalidades pedagógico-acadêmicas assentadas nos parâmetros teórico-metodológicos posteriores, com o desiderato de atender às dimensões éticas do processo. O campo empírico é uma escola da rede privada, na qual atividades externas devem passar pelo crivo dessas instâncias.
Com aquiescência da instituição, exibiu-se, no mês de outubro de 2023, a proposta aos(às) discentes do 8º ano, iniciando pela apresentação do gênero textual entrevista, fazendo uma contextualização temática, pois os grupos formados iriam localizar um(a) autor(a) local para responder a algumas perguntas elaboradas pelos(as) próprios(as) estudantes. Após essa etapa, estimulou-se a pensar em quais indagações seriam feitas, por meio da elaboração de um roteiro, uma vez que poderiam surgir questões invasivas, gerando desconforto no processo.
A fim de facilitar as travessias vindouras, apresentou-se uma lista contendo autores(as) que nasceram na cidade de Ribeira do Pombal/BA, cidade onde está localizada a escola na qual foi desenvolvida a pesquisa-ação. Nesse sentido, poderiam ser entrevistados(as): Renata Poeta, Osvaldo Morais, Edvaldo Reis, Manoel Messias e Maria Tereza Costa.
Por se tratar da produção de um recurso audiovisual, as entrevistas poderiam ser realizadas por intermédio de aplicativos, a exemplo do WhatsApp, porquanto, devido à rotina profissional dessas pessoas, poderia não ser fácil localizá-las. Além disso, após anuência dos(as) autores(as), o professor do componente curricular Literatura, Sociedade e Culturas forneceu o contato pessoal dos nomes citados.
Na sequência, houve a apresentação do podcast na condição de tecnogênero. Inicialmente, alguns discentes demonstraram medo em não conseguir finalizar o trabalho. Mesmo que tal recurso já fosse conhecido pela maioria, era necessário apresentar algumas possibilidades, contendo o passo a passo (tutorial) para sua gravação, bem como os itens que deveriam ser contemplados no trabalho construído.
Bodart e Silva (2021) argumentam que, embora o podcast não seja uma ferramenta nova, seus usos em contextos educacionais ainda são recentes, não podendo ser confundidos com ferramentas associadas ao entretenimento na sociedade do espetáculo, uma vez que é necessário vinculá-lo a situações que envolvam processos de ensino e aprendizagem, a fim de potencializá-los, em um viés coformativo defendido por Macedo (2011; 2013), dentro do qual os “contextos socioculturais podem alterar as cenas curriculares”, levando os(as) discentes a “serem coautores dos seus processos de aprendizagem [...] pelos seus atos de currículo” (Macedo, 2013, p. 428).
Deve-se mencionar que o tecnogênero podcast foi escolhido em virtude de três fatores. O primeiro refere-se à praticidade, porquanto viabilizá-lo não é uma tarefa complicada, uma vez que “pode ser produzido por uma única pessoa tendo como recurso apenas um microfone ou gravador digital, um computador conectado à internet e algum servidor na rede para armazenamento de seus programas” (Primo, 2005, p. 17).
O segundo está vinculado à necessidade de colocar em prática, em contextos da Educação Básica, os saberes arregimentados durante o curso de pós-graduação lato sensu em Produção de Mídias para Educação On-line, no sentido de verificar a aplicabilidade do arcabouço teórico-epistemológico intercriticamente construído. O terceiro se deve à busca pela inserção dos(as) estudantes na condição de mentores dos atos de currículo, uma vez que “o ser humano constrói o conhecimento por meio de suas interações e protagonismos” (Macedo, 2018, p. 199).
É válido sinalizar que todos os(as) estudantes da turma possuíam dispositivo móvel (celular) capaz de realizar gravações de áudio, o que facilitou o desenvolvimento da proposta. Isso deve ser levado em consideração, pois os usos político-pedagógicos das tecnologias necessitam se coadunar ao perfil dos(as) discentes, bem como ao currículo e à cultura institucionais.
O corpo discente, contrariando o medo inicial do professor de não ser correspondido no sentido de atrair a atenção para a atividade, demonstrou satisfação com a proposta, revelando que tal metodologia poderia inserir dinamismo e despertar o interesse pelo objeto de conhecimento trabalhado na entrevista e nas aulas. A esse respeito, Carvalho e Moura (2006) sinalizam que os sujeitos curriculantes necessitam ser motivados para construir um podcast, sendo que os de curta duração são mais fáceis de acompanhamento e revisão.
Observa-se que, com esse recurso sonoro, a condição estudantil ganha novo formato, porquanto o corpo discente se torna produtor de saberes que podem ser reaproveitados pelo(a) professor(a) em outros momentos, a fim de revisar conteúdos ou propor novas atividades.
Durante a exposição a respeito do podcast, observou-se que a estratégia selecionada proporciona a construção de saberes e formas crítico-colaborativas de pensamento, dando vez aos(às) estudantes para produzir áudios e compartilhá-los no ciberespaço, fato que demandava o delineamento de um roteiro de ação, uma vez que “ser familiarizado e usar [o espaço da web] não significa, necessariamente, levar em conta as dimensões ética, estética e política desse uso, tampouco lidar, de forma crítica, com os conteúdos”, fato que requer auxílio por parte do corpo docente (Brasil, 2018, p. 68).
A partir desses mo(vi)mentos, o professor do componente buscou enfatizar para a turma que o podcast pode funcionar como instrumento para reflexão crítica acerca de problemas sociais enfrentados historicamente pela humanidade, os quais demandam o interesse pela pesquisa multirreferencializada e o exercício crítico da cidadania para reverter essas situações complexas e assaz multifacetadas.
Foram apresentados modelos de podcasts, com seus episódios constituintes. Explicou-se que a linguagem adotada não precisaria, necessariamente, ser formal o tempo inteiro. Assim, o(a) entrevistador(a) poderia prescindir de um tratamento sisudo, uma vez que a mídia produzida deveria ser interativa e apresentar, no máximo, dez minutos, bem como dialogar de maneira descontraída com o(a) entrevistado(a), a partir do seguinte roteiro:
- faixa sonora (vinheta) inicial;
- apresentação dos(as) estudantes, da escola e do componente curricular;
- inserção da entrevista;
- agradecimentos e faixa sonora final.
Além disso, deveria aparecer texto sinóptico no Spotifye uma imagem ilustrativa, onde seriam hospedados os áudios correspondentes a um único episódio. Também se explicou que todo o processo poderia ser concretizado de forma gratuita, sem finalidades lucrativas.
Após análise dos roteiros de entrevista, o professor do componente autorizou a pesquisa in loco (físico ou virtual), enfatizando os itens obrigatórios e as questões éticas a serem perseguidas. A produção do podcast aconteceu fora do horário escolar, pois exigia um ambiente silencioso e o uso de outros artefatos que não estavam disponíveis na unidade educacional.
Todos os grupos tiveram êxito na construção do podcast, o qual foi apresentado uma semana depois, sendo exibido para toda a turma em novembro de 2023. Cada equipe, no momento final, também deveria evidenciar os desafios enfrentados, além de (auto)avaliar o processo de construção.
Primo (2005) acentua que o podcast incentiva o trabalho colaborativo, bem como o interesse pela produção de conhecimentos dentro e fora da sala de aula. Tais benefícios foram observados durante a produção da mídia por estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, uma vez que, com a divisão de tarefas, cada integrante se ocupou em desenvolver uma ou mais etapa(s) (gravação, edição etc.).
À guisa de ilustração de algumas mídias, as imagens apresentadas a seguir evidenciam a produção de dois grupos: um entrevistou o escritor Manoel Messias Matos, construindo um material com 6min60s, conforme a Figura 1. A outra equipe realizou o trabalho fazendo perguntas a Edvaldo Araújo dos Reis, com um podcast com duração de 08min16s, de acordo com a Figura 2.
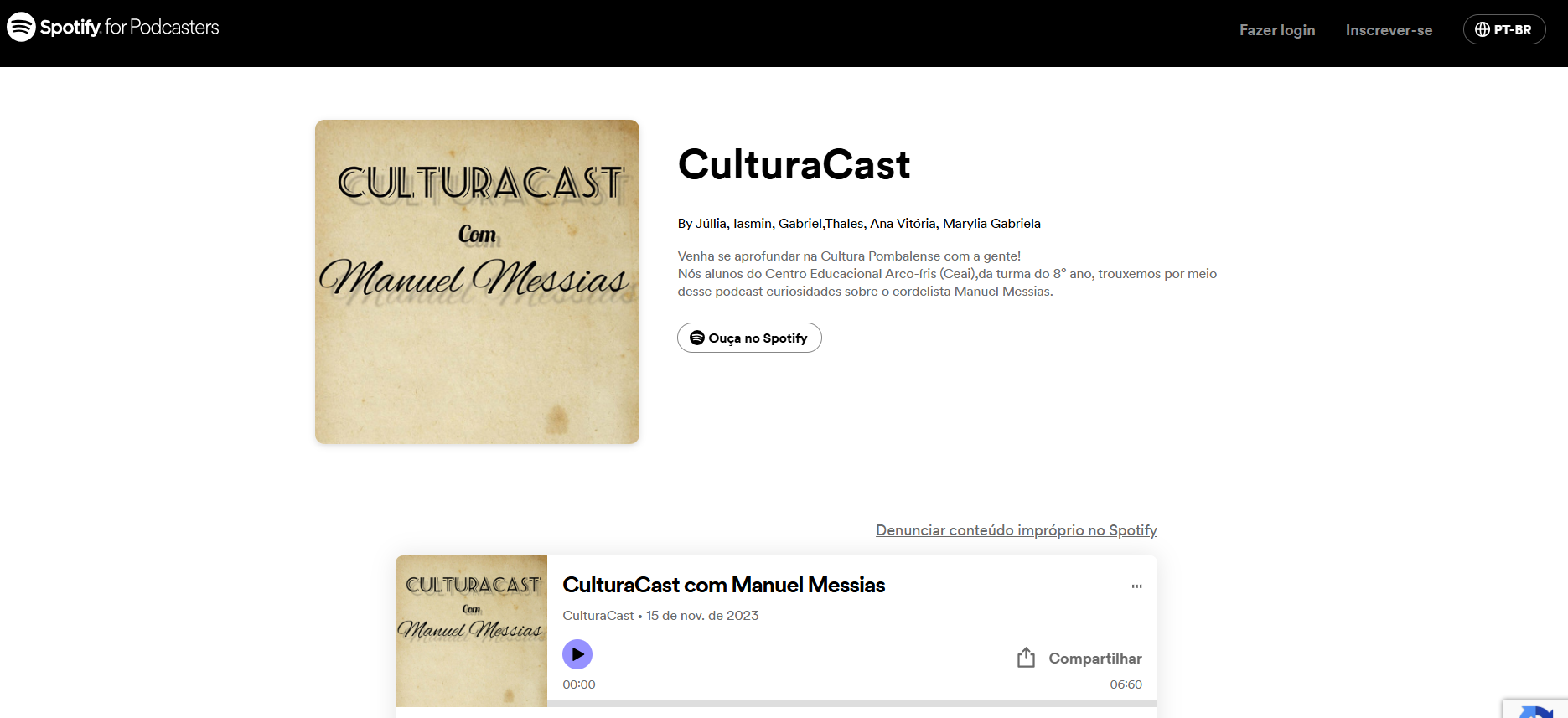
Figura 1: Podcast com entrevista com o escritor Manoel Messias
Fonte: https://podcasters.spotify.com/pod/show/jullia01. Acesso em: 24 jul. 2024.
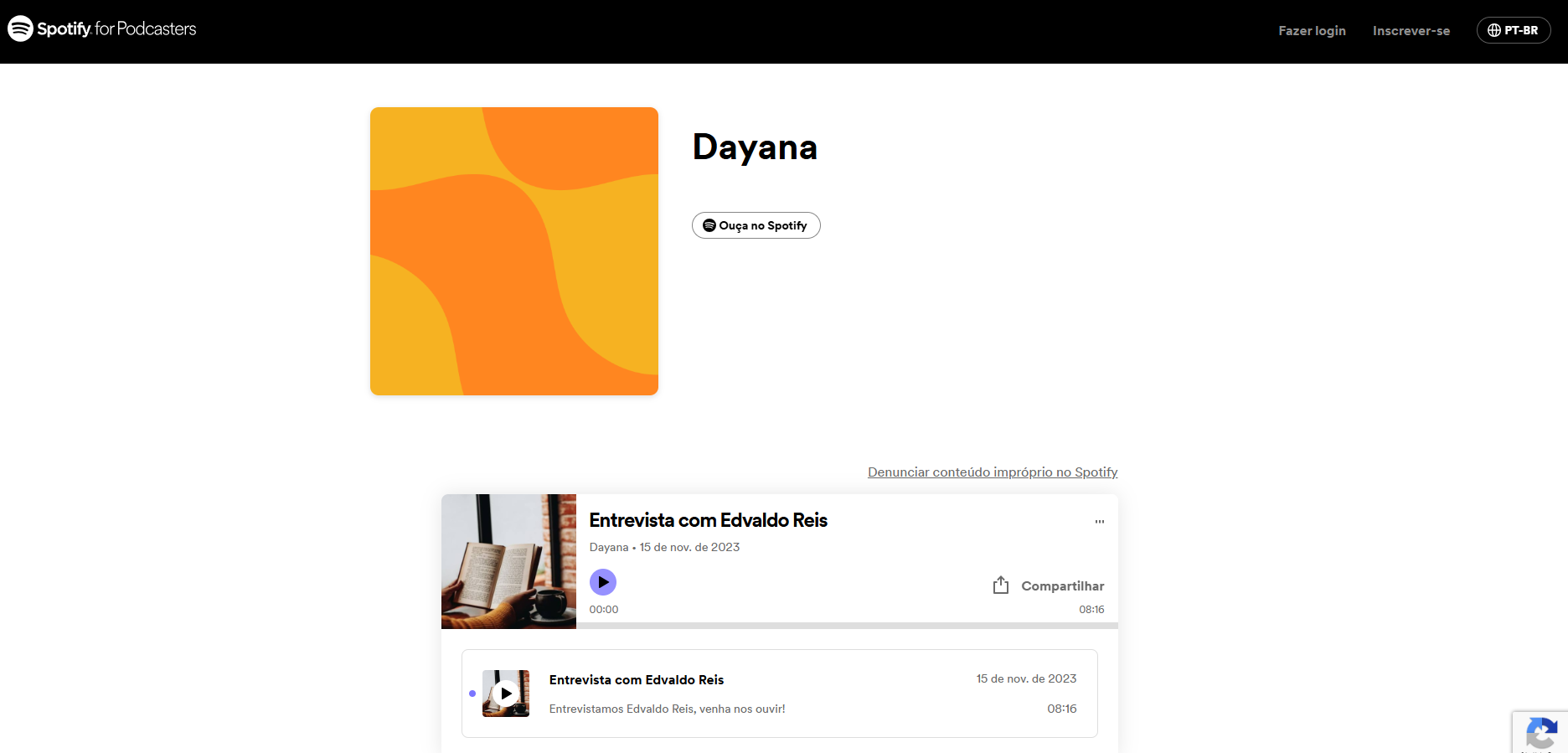
Figura 2: Podcast com entrevista com o escritor Edvaldo Reis
Fonte: https://podcasters.spotify.com/pod/show/dayana2376/episodes/Entrevista-com-Edvaldo-Reis-e2c09tl. Acesso em: 24 jul. 2024.
A equipe que corresponde à Figura 1 denominou o recurso sonoro produzido de CulturaCast, a fim de fazer alusão a um dos itens cujos estudos são fomentados no componente curricular no qual esta pesquisa-ação foi desenvolvida. A entrevista foi realizada com Manoel Messias Andrade de Matos, cordelista nascido em Ribeira do Pombal e membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB), autor de um vasto número de folhetos de cordel (Matos, 2024).
Foram feitas as seguintes indagações a Manoel Messias:
a) Quando começou a escrever, o senhor teve alguma inspiração de livros ou escritores que admirava?;
b) O senhor acha que, com o avanço da tecnologia, as pessoas começaram a ler mais?;
c) O que o senhor acha da situação do Brasil quando o assunto é leitura?;
d) Quando o senhor entrou no mundo da leitura, costumava visitar bibliotecas?;
e) O que o senhor acha das adaptações de obras literárias?
O aluno que conduziu a entrevista fez acréscimos e inferências após as respostas fornecidas, demonstrando posicionamento crítico a respeito da literatura de cordel e as desvalorizações que a costumam atravessar no dia a dia. Tal atitude confirma que “o podcast não se trata apenas de uma tecnologia de áudio, mas também de oralidade” (Carvalho; Oliveira; Oliveira, 2020, p. 58).
A equipe representada na Figura 2 não nominou o podcast produzido, alegando dificuldades para isso. Também informou não ter conseguido inserir o pequeno texto descritivo e a imagem capazes de guiar os ouvintes no Spotify. Diferentemente do primeiro exemplo, nesse caso houve somente a junção dos áudios com as perguntas e as respostas, sem interpolações por parte do entrevistador.
A entrevista, foi dirigida a Edvaldo Araújo Reis, nascido em Ribeira do Pombal, autor dos livros Teias da vida: o regresso e Teias da Vida: a missão. Ele possui formação em Matemática, atuando como professor da Educação Básica na rede estadual de ensino da Bahia (Reis, 2017; 2022).
Edvaldo Reis respondeu às seguintes indagações:
- O que te motivou a ser um escritor?;
- Ser um escritor foi algo pensado ou isso aconteceu com o tempo?;
- Quando você chega a lugares públicos ou privados você é bem tratado?;
- De qual livro que você escreveu mais gostou?;
- Qual foi sua maior dificuldade ao escrever um livro?;
- Qual foi a sua melhor experiência em literatura?;
- Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser escritor?;
- Qual foi sua maior inspiração na literatura?
As perguntas revelam o interesse dos(as) estudantes em descobrir facetas relacionadas ao processo de construção de uma obra literária, seja um folheto de cordel ou um romance mais denso, repleto de personagens e ações.
É preciso trazer a lume que as demais produções dos(as) estudantes da turma se encontram hospedadas no Spotify, podendo ser acessadas por qualquer pessoa que deseje conhecer a trajetória de tais escritores(as), bem como suas relações com a escrita.
O contato dos(as) estudantes com autores(as) locais gera empoderamento, no sentido de perceber que é possível publicar uma obra mesmo diante de um mercado editorial excludente e que costuma privilegiar escritores(as) com base em valores mercadológicos.
Considerações finais
Sabedoria seria produzir um conhecimento substantivo, não apenas instrumental, a partir de conhecimentos que se coloquem em questão. [...] A atual cultura digital produz muitos dados, alguma informação, pouco conhecimento e raros momentos de sabedoria (Lemos, 2021, p. 30).
A sinalização de Lemos (2021) permite considerar que às escolas compete desenvolver ações tecnoinformacionalizadas com horizontes emancipacionistas, tendo em vista o alcance de uma outra educação, na qual os dispositivos tecnológicos estejam em consonância com os princípios e experiências (co)formacionais.
A experimentação de podcasts nos contextos da Educação Básica, no campo empírico mencionado, possibilitou notar qualidades pedagógicas de um recurso que, embora não tenha surgido no meio educacional, vem se popularizando em todo o mundo, podendo ser usado com diversas finalidades. No caso em comento neste artigo, para divulgar autores e fomentar estudos acerca das culturas locais.
Além de possibilitar, de forma interativa, foco no conteúdo, estimulando a imaginação, a concentração e a criatividade, os podcasts se convertem em aulas leves e divertidas que podem ser retomadas em qualquer lugar, dada a dimensão ubíqua da cibercultura. Não bastasse isso, ajudam a melhorar a escrita e a linguagem oral, permitindo ainda ganhos em habilidades socioemocionais do corpo discente.
A maior descoberta foi que, ao invés de uma postura apocalíptica (Eco, 1993) em relação aos dispositivos tecnológicos, seus avanços e configurações recentes, à escola cabe interconectar, de forma ética, crítica e qualificada, professores(as) e estudantes ao ciberespaço e seus desdobramentos, contribuindo para divulgar conhecimentos na podosfera, reconstruí-los e desenvolver competências cognitivas e emocionais.
A execução da proposta seminal aqui mencionada também revelou o caráter relacional dos atos de currículo, ao propor a construção de um tecnogênero que demanda idas e vindas colaborativas, repartição de tarefas, auxílio mútuo e compartilhamento de ideias com vigilância epistemológica que iria compor um espaçotempo na cibercultura.
Ademais, demonstrou-se que mediar agenciamentos sociotécnicos envolvendo os contextos cambiantes e céleres da cibercultura demanda não somente a inserção de dispositivos tecnológicos em sala de aula, mas ampla e crítica formação e reconfiguração docente, capaz de possibilitar trabalhos fecundos e heurísticos com os atores curriculantes, com o fito de instaurar diferenças qualitativas nas práticas pedagógicas.
Referências
ALVES, Nilda. A compreensão de políticas nas pesquisas com os cotidianos: para além dos processos de regulação. Educ. Soc., Campinas, v. 31, nº 113, p. 1.195-1.212, out./dez. 2010.
BODART, Cristiano das Neves; SILVA, Zaine Paula dos Santos. Podcast como potencial recurso didático para prática e a formação docente. Ensino em Re-Vista, Uberlândia, v. 28, p. 1-26, 2021.
BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução às teorias e aos métodos. Porto: Porto, 1994.
BONTEMPO, Renato. Podcast descomplicado: crie podcasts impossíveis de serem ignorados. 2ª ed. Patos de Minas: Editora do Autor, 2021.
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018.
BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nº 9.448, de 14 de março de 1997, nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e nº 10.753, de 30 de outubro de 2003. Brasília: MEC, 2023.
CARVALHO, Ana Amélia Amorim; MOURA, Adelina Maria Carreiro. Podcast: uma ferramenta para usar dentro e fora da sala de aula. Braga: Universidade do Minho, 2006.
CARVALHO, Saulo Rodrigues; OLIVEIRA, Ilena da Aparecida; OLIVEIRA, Sabrina Aparecida de. Podcast como recurso pedagógico no ensino remoto. Revista Aproximação, Guarapuava, v. 2, nº 5, out./nov./dez. 2020.
CEAI. Projeto Político-Pedagógico. Ribeira do Pombal: Ceai, 2021.
CELARINO, André Luiz de Souza; STOHR, Miguel Angelo Larssen; BRESCIANI, Kássia Danieli; CADORIN, Guilherme Antonio; GANHOR, João Paulo. O uso de podcasts como instrumento didático na Educação: abordagens nos periódicos nacionais entre 2009 e 2020. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 39, 2023.
COMITÊ GESTOR DA INTERNET (CGI). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. São Paulo: CGI, 2021.
DUARTE, Elisete; GARCIA, Leila Posenato. Infodemia: excesso de quantidade em detrimento da qualidade das informações sobre a covid-19. Epidemiol. Serv. Saúde [on-line], v. 29, nº 4, 2020.
ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 1993.
FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. Podcast: breve história de uma nova tecnologia educacional. Educação em Revista, Marília, v. 18, nº 2, p. 55-70, jul./dez. 2017.
FREIRE, Eugênio Paccelli Aguiar. Potenciais cooperativos do podcast escolar por uma perspectiva freinetiana. Revista Brasileira de Educação, v. 20, nº 63, out./dez. 2015.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 41ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.
GIL, Gilberto. Todas as letras. Org. Carlos Rennó. 3ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.
JESUS, Wagner Brito. Podcast e educação: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2014.
LEMOS, André. A tecnologia é um vírus: pandemia e cultura digital. Porto Alegre: Sulina, 2021.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999.
MACEDO, Roberto Sidnei. A etnopesquisa implicada: pertencimento, criação de saberes e afirmação. Brasília: Liber Livro, 2011.
MACEDO, Roberto Sidnei. A Teoria Etnoconstitutiva de Currículo e a pesquisa curricular: configurações epistemológicas, metodológicas e heurístico-formativas. Revista e-Curriculum, São Paulo, v. 16, nº 1, p. 190-212, jan./mar. 2018.
MACEDO, Roberto Sidnei. Atos de currículo e autonomia pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2013.
MATOS, Manoel Messias Andrade de. Tecer leituras e letramentos. Ribeira do Pombal, 2024.
PAVEAU, Marie-Anne. Análise do discurso digital: dicionário das formas e das práticas. Org. Júlia Lourenço e Roberto Leiser Baronas. São Paulo: Pontes, 2021.
PRIMO, Alex Fernando Teixeira. Para além da emissão sonora: as interações no podcasting. Porto Alegre. Intexto, nº 13, p. 1-23, jul./dez. 2005.
REIS, Edvaldo Araújo dos. Teias da vida: a missão. São Paulo: Astrolábio, 2022.
REIS, Edvaldo Araújo dos. Teias da vida: o regresso. São Paulo: Scortecci, 2017.
SILVA, Bento; TEIXEIRA, Marcelo. Radioweb e podcast: conceitos e aplicações no ciberespaço educativo. Revista de Comunicación, Madri, nº A4, p. 253-261, 2010.
ZACHARIAS, Valéria Ribeiro de Castro. Letramento digital: desafios e possibilidades para o ensino. In: COSCARELLI, Carla Viana (org.). Tecnologias para aprender. São Paulo: Parábola, 2016. p. 15-30.
ZANINI, Walter. A arte de comunicação telemática: a interatividade no ciberespaço. Revista do Departamento de Artes Plásticas, v. 1, nº 1, p. 11-34, 2003.
Publicado em 12 de novembro de 2025
Como citar este artigo (ABNT)
JESUS JÚNIOR, Osvaldo Alves de. “Eu quero entrar na rede para contactar”: o uso (co)formacional do podcast em atos de currículo no componente Literatura, Sociedade e Culturas. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 43, 12 de novembro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/43/eu-quero-entrar-na-rede-para-contactar-o-uso-coformacional-do-podcast-em-atos-de-curriculo-no-componente-literatura-sociedade-e-culturas
Novidades por e-mail
Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing
Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário
Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.

