A importância da Literatura Indígena no currículo dos cursos de licenciatura em Letras
Ema Marta Dunck Cintra
Doutora em Linguística (UFG), professora do IFG - campus Goiânia
Fabricia Nayara Barreto da Silva
Licencianda em Letras (IFG - campus Goiânia)
Mariany Aline Pereira Santos We'ena Anakãn
Licenciada em Letras (IFG - campus Goiânia)
Devido à ausência de uma disciplina voltada ao estudo de Literatura Indígena no curso de Letras do Instituto Federal de Goiás (IFG) e considerando que a Literatura Africana é abordada em diversos momentos do curso, se faz necessário refletir a respeito da Lei n° 11.645/08 pautada na obrigatoriedade do ensino de História e Cultura indígena e afro-brasileira no Ensino Básico.
Nesse sentido, surge o questionamento se essa ausência também seria observada em outros cursos de Letras ofertados presencialmente em Goiânia ou se é um fato isolado do IFG. Assim, foram definidas estratégias de análise dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) do IFG, da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC).
Considera-se essa análise importante, pois se há uma lei que orienta a todos os professores do Ensino Fundamental e Médio a trabalharem a temática e cultura indígena dentro de sala de aula, as universidades são responsáveis pela formação de professores e devem não só citar como trabalhar esses temas para que os profissionais estejam preparados a cumprir com seus deveres de maneira consciente, crítica e construtiva.
Graúna (2011), em Educação, literatura e direitos humanos: visões indígenas da Lei n° 11.645/08, com o intuito de mostrar a importância da aplicabilidade da lei, fez uma pesquisa entre vários indígenas, perguntando: "1. Quais os desafios e perspectivas para o ensino da História e da Cultura indígenas? 2. De que modo a História e a Cultura indígenas são referidas no livro didático hoje?".
Em relação à primeira pergunta, alguns destacaram a questão da falha que se tem no registro historiográfico dos diferentes povos indígenas, outros falaram da própria formação de professores, pois os licenciados não têm acesso à discussão e à formação na temática indígena. Devido à falha nas instituições de Ensino Superior, os docentes não são suficientemente capacitados para aplicar essa discussão em sala de aula, contribuindo para uma propagação fantasiosa e limitada acerca da cultura e episteme desses povos, retratadas de forma estigmatizada pelo livro didático.
Além disso, os entrevistados enfatizaram a importância de reconhecer e contar a história a partir da ótica dos próprios indígenas que vivenciaram e vivenciam uma grande problemática de violência estrutural. Desse modo, é preciso organizar e disseminar nas instituições formativas de educação o conhecimento histórico-crítico acerca da temática indígena para que haja reconhecimento acerca da existência, identidades e valores que cada um dos povos originários brasileiros possui.
Para a segunda pergunta, as respostas seguiram a mesma perspectiva, reforçando que nos livros didáticos o que é retratado é o "índio" do século XVI. Ao mostrarem os indígenas atuais, focam nas características dos povos do Xingu ignorando grande parte dos que vivem no extenso território brasileiro. São definidos, na maioria das vezes, pelo "atraso" em sentido cultural, tecnológico e civilizatório, ignorados completamente em sua diversidade de povos, culturas e línguas. Também se ignora todo o massacre, a perseguição e o etnocídio sofridos por eles.
Nesse sentido, questiona-se a história por meio da memória daqueles que foram violentados em seu ser e saber, a fim de romper com os discursos eurocêntricos tendenciosos. É necessário que sejam contadas narrativas silenciadas. Assim, gradativamente, pensa-se numa reparação que possibilite a liberdade de existir e ter seu lugar de pertencimento respeitado.
É preciso que seja feito o combate à hegemonia eurocêntrica e isso pode e deve ser feito pelos profissionais da Letras, por meio da literatura. Como afirma Candido (2011, p. 180), "a mensagem é inseparável do código, mas o código é a condição que assegura o seu efeito". O que ocorre é que o discurso disseminado pelo europeu que, à partir de sua ótica, sempre colocará a sua figura como a figura do herói devido ao fetichismo epistêmico que criou acerca de si mesmo, com as narrativas que procuram trazer outras epistemes silenciadas, excluídas. Daí a necessidade de recontar a história de outro lócus, um que seja decolonial, intercultural e crítico, colocando os indígenas como protagonistas de suas narrativas.
Nesse sentido, é necessário que os currículos busquem uma valorização da diversidade de conhecimento que existe na sociedade. Aqui reside a questão que será apresentada: a importância de os cursos de licenciatura em Letras também se dedicarem ao estudo da Literatura Indígena.
Contextualização e historicidade
Historicamente, no período de colonização e pós-colonização, os povos indígenas brasileiros têm ocupado um lugar marginal na sociedade, pois os colonizadores classificaram a sociedade em uma hierarquia em que os europeus e seu modo de pensar foram considerados superiores, negando e silenciando outras epistemologias.
Nesse sentido, refletimos a respeito do colonialismo e da colonialidade, conceitos explicados por Torres (2007, p. 131):
Colonialidade não significa o mesmo que colonialismo. O colonialismo denota uma relação política e econômica, na qual a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a referida nação em um império. Distinta desta ideia, a colonialidade refere-se a um padrão de poder que emergiu como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de se limitar a uma relação formal de poder entre dois povos ou nações, refere-se antes à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas articulam-se entre si, através do mercado capitalista global e da ideia de raça. Assim, embora o colonialismo preceda a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo (tradução livre).
Como se observa, o colonialismo diz respeito à relação imposta de dominação e exploração entre metrópole e colônia. O primeiro exerce poder político e econômico sobre o segundo, de forma totalitária. Já a colonialidade diz respeito às consequências e à continuidade dos valores eurocêntricos na modernidade impostos desde a colonização. Também diz respeito a como se desenvolveram por meio do mercado capitalista num cenário maniqueísta, mantendo o eurocentrismo como superior às outras racionalidades existentes, perpetuando as relações assimétricas de poder.
Essas relações estabelecem a sub-humanidade que, segundo Krenak (2020), é a parcela esquecida da sociedade composta por indígenas, caiçaras, quilombolas etc. Esses, no entanto, não enxergam o planeta nem a vida como mercadoria. São coletividades que vivem em uma organicidade e se identificam como parte da terra, resistindo a todas as formas de destruição, respeitando a natureza e preservando (quando possível, não sendo engolido pelo não-indígena) seu arcabouço cultural para a continuidade desse importante modo de viver. Para esses, a terra não é um recurso, mas um organismo vivo do qual fazem parte e dependem para a existência. Se há o equivocado descolamento fantasioso entre o humano e a terra, isso culminará em um iminente desastre: a impossibilidade de subsistência do gênero humano.
O esquecimento, no entanto, é uma profunda violência para com os povos relegados, justificando-se essa ação na desumanização. Sartre, no prefácio do livro de Fanon (1968), Os condenados da Terra, diz que "o europeu só pode se fazer homem fabricando escravos e monstros" (p. 17). Ele descreve o modo de pensar e agir do colonizador em seu processo de imposição da colonialidade pelo poder:
a ordem é rebaixar os habitantes do território, anexado ao nível do macaco superior para justificar que o colono os trate como besta de carga. A violência colonial não tem só o objetivo de garantir o respeito desses homens subjugados; mas procura desumanizá-los. Nada deve ser poupado para liquidar as suas tradições, para substituir a língua deles pela nossa, para destruir a sua cultura sem lhes dar a nossa; é preciso embrutecê-los pela fadiga. Desnutridos, enfermos, se ainda resistem, o medo concluirá o trabalho: assentam-se os fuzis sobre o camponês; vem civis que se instalam na terra e o obrigam a cultivá-la para eles. Se resiste, os soldados atiram, é um homem morto; se cede, degrada-se, não é mais um homem; a vergonha e o temor vão fender-lhe o caráter, desintegrar-lhe a personalidade (Fanon, 1968, p. 9).
A descrição de Sartre no prefácio do livro é cirúrgica em relação aos métodos de colonização. No entanto, tem um alcance para além dela. Em 1822, o Brasil foi declarado como uma nação independente. Em 1888, determinou-se a abolição da escravatura. Sendo assim, seria coerente que tais violências imputadas fossem extinguidas de maneira concomitante, mas isso não aconteceu. Esses importantes marcos históricos ocorreram no século XIX e, hoje, no século XXI, ainda sobressai a violência sofrida e aplicada aos povos indígenas na negação dos seus direitos constitucionais, nos abusos físicos praticados, nas invasões de seus territórios etc.
Um exemplo disso afirma Coll (2023) em um lead: "Situação dos Yanomami expõe abandono dos indígenas pelo Estado". Nele são apresentados dados referentes ao território Yanomami e, de acordo com o texto, o aldeamento possui suas terras demarcadas desde 1991. Mesmo assim, há quase 20 mil garimpeiros ilegais na região. Os indígenas do território estão em situação de vulnerabilidade, denunciando a contaminação dos rios devido ao garimpo, os abusos de mulheres e crianças, a falta de medicamentos, de alimentos e ataques armados.
As atrocidades citadas pertencem ao campo das manifestações físicas, mas há, ainda, a agressão invisível, discursiva e ideológica que atua para o esvaziamento do ser, no extermínio da identidade e do senso de pertencimento ao mundo. Para Fanon (1968, p. 30), "não basta ao colono limitar fisicamente, com o auxílio de sua polícia e de sua gendarmaria, o espaço do colonizado, [...] o colono faz do colonizado uma espécie de quintessência do mal".
O indígena é declarado impermeável à ética, ausência de valores, como também negação dos valores. É, ousemos confessá-lo, o inimigo dos valores. Neste sentido, é o mal absoluto. Elemento corrosivo, que destrói tudo o que dele se aproxima, elemento deformador, que desfigura tudo o que se refere à estética ou à moral, depositário de forças maléficas, instrumento inconsciente e irrecuperável de forças cegas (Fanon, 1968, p.31).
Considerando o quadro apresentado até aqui, do lugar na sociedade e no imaginário coletivo que ocupam os povos originários do Brasil, cabe, a cada pessoa, em especial aos educadores, fazer a sua parte para desconstruir os preconceitos e reafirmar as identidades renegadas na tentativa de extinguir a existência de povos e culturas.
Um dos principais caminhos para o questionamento e a reconstrução ideológica numa sociedade tão ampla e diversa é a educação. Por isso, há a Lei n°11.645/2008 que pauta a respeito da obrigatoriedade de todas as instituições de Ensino Básico do país trabalharem a História e Cultura indígena e afro-brasileira.
Uma nação é composta por vários indivíduos diferentes e essa diversidade deve ser valorizada e respeitada. Sendo assim, Mantoan (2003) é assertiva quando afirma que "nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Há diferenças e igualdades - nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente". Ela conclui que "é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza" (Santos apud Mantoan, 2003, p. 21).
É direito das comunidades indígenas serem vistas como partes autênticas da sociedade e, por isso, devem ter a liberdade de se organizarem de acordo com sua própria cultura, com direitos humanos garantidos. Essa liberdade é constitucional (1988). Nela está posto que os povos indígenas têm o direito à demarcação das terras ocupadas, à utilização e ao ensino da língua materna, juntamente com a Língua Portuguesa, além da autonomia de desenvolver e aplicar suas próprias metodologias de ensino nas suas escolas.
Infelizmente, a escola ocupou e ocupa ainda um lugar de propagação equivocada da identidade dos povos indígenas, com um discurso histórico que coloca o colonizador no papel de herói sem observar as tantas violências que foram cometidas por eles. Destarte, a necessidade de criação da Lei n°11.645/08 foi e é de extrema importância para incutir responsabilidade crítica às escolas no exercício da conscientização e da retratação históricas.
Pensando que essa lei, hoje, já possui 15 anos de homologação, surgem os questionamentos: se é obrigatório trabalhar a História e a Cultura indígena no Ensino Básico, os graduandos do curso de Letras presencial estão recebendo formação para introduzir e discutir esse conteúdo em sala? Ou, considerando-se especificamente o campo da literatura, pois é a área que na licenciatura em Letras se trabalha de forma mais aprofundada e representativa a historiografia, há a presença de autores indígenas nos PPC dos cursos? Para responder às perguntas, analisamos os PPCs de Letras do IFG (campus Goiânia), da PUC e da UFG e os discutiremos no próximo tópico.
Metodologia: análise dos PPCs dos cursos de letras
Este artigo foi realizado a partir de um financiamento interno do Programa Institucional de bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica nas Ações Afirmativas (IFG/Pibic-AF) e desenvolvido sob um paradigma qualitativo que "trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes" (Minayo, 2016, p. 21).
Iniciamos a proposta pela pesquisa bibliográfica de modo a proceder à fundamentação teórica. Em seguida, realizamos pesquisa documental dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). Os dados obtidos foram observados por intermédio da técnica de análise de conteúdo, pois ela é bastante relevante em uma pesquisa qualitativa, uma vez que agrega valor aos dados. Para Bardin (2016, p. 38) esse tipo pode ser considerado como um conjunto de técnicas de análises de comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Sua intenção na análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção das mensagens, inferência que recorre aos indicadores (quantitativos ou não).
A organização dos dados na análise mais aprofundada foi a unidade categorial temática que "consiste em descobrir os 'núcleos de sentido' que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido" (Bardin, 2016, p. 135).
Foram selecionados os PPCs dos cursos de Letras ofertados presencialmente em Goiânia de três instituições: Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia (IFG); Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC) e Universidade Federal de Goiás (UFG).
Na PUC (2013) e no IFG (2018) há a oferta de Letras, Língua Portuguesa. Já na UFG (campus Samambaia) há a oferta de oito modalidades de Letras, sendo elas: Estudos Literários (2014), Espanhol (2014), Português (2014), Francês (2014), Inglês (2014), Libras (2014), Linguística (2014), Tradução e Interpretação em Libras/Português (2014).
Para a análise foram definidos alguns descritores considerados importantes, verificando se estavam ou não presentes nos documentos. Entre eles havia nomes de autores indígenas que já são conhecidos ou deveriam ser conhecidos pela academia. São esses os descritores: índio, indígena, Literatura Indígena, Munduruku, Krenak, Baniwa, Werá, Jecupé, Kambeba, Tabajara, Potiguara, Graúna, Dorrico, Yaguarê Yamã, Wapichana, Yaguakãg, Wasiry Guará, Kaingáng, Hakiy, Kayapó, Macuxi, Kapinawá, Lei n°10.639 e Lei n°11.645.
Os únicos termos que apareceram nos PPC, apresentamos na Figura 1.
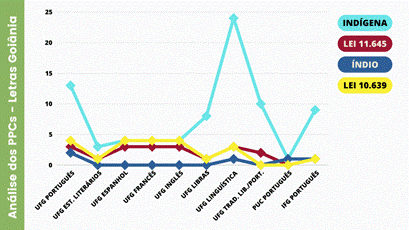
Figura 1: Análise dos PPCs - Letras Goiânia
O gráfico da Figura 1 mostra que de todos os 25 descritores selecionados somente quatro apareceram nos documentos curriculares dos cursos. Todos os outros descritores tiveram total ausência. As palavras-chave identificadas mostram que:
- A palavra "índio" praticamente não é utilizada dentro dos documentos oficiais, aparecendo poucas vezes nos documentos. O fato é positivo, visto que a palavra "índio" foi dada pelo colonizador e é carregada de estigmas pejorativos, mas não representa a identidade plural dos povos indígenas. Verifica-se que as instituições de educação superior analisadas em Goiânia estão atualizadas quanto ao uso da nomenclatura correta ao se direcionar aos povos originários.
- A Lei n°11.645/08 é citada poucas vezes e em alguns documentos ela não aparece nenhuma vez. Quando aparece, geralmente se restringe às ementas de algumas disciplinas e nas referências delas. A maioria dos currículos das instituições menciona a legislação que imputa a responsabilidade em abordar a temática indígena e afro-brasileira na educação, no entanto, a temática e os escritores indígenas também deveriam estar presentes, não só a legislação para cumprir com uma formalidade. Quanto ao conteúdo de estudo das disciplinas obrigatórias, há o cumprimento da parte da lei que fala da História e Cultura dos povos afro-brasileiros, mas o segmento que diz respeito aos indígenas aparece muito raramente e no lugar de disciplinas optativas complementares dos estudos linguísticos, nunca como obrigatórias.
- A Lei n°10.639/03 é citada mais vezes, fato compreensível visto que é mais antiga e tem maior implementação. Em todos os PPCs de Letras da UFG há a disciplina "Literaturas Africanas de Língua Portuguesa". No IFG há a disciplina "Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena", implementada como "Relações Étnico-Raciais". Na PUC também há conteúdos de Literatura Afro que são estudados.
- A palavra "indígena" aparece em todos os PPCs ao menos uma vez, como é o caso da PUC. Em uma análise mais geral é possível observar que o termo aparece muito mais vezes no curso de Linguística, quando comparado ao curso de Literatura, demonstrando que a Literatura Indígena não está presente em nenhum dos currículos. As línguas indígenas são abordadas para estudos linguísticos e sempre como conteúdo de caráter indigenista, o que ficará mais claro com a mostra do quadro de categorias que apresentaremos mais à frente. É importante dizer que as palavras-chave (descritores), com nomes étnicos de escritores indígenas não estão presentes em nenhum PPC, por isso não são demonstradas nos resultados.
Após a tabulação dos descritores, os resultados dispostos foram distribuídos para análise em quatro categorias: Legislação ou Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE); Ementa/Estudos Linguísticos; Ementa/Indígena e Sociedade Brasileira e Disciplinas optativas. Essa categorização serviu para refletir, de maneira mais pontual, a respeito da construção e da aplicação dos currículos de cada curso em relação às abordagens da temática indígena.
1. Curso: PUC – Português
No PPC do curso Letras/Português da PUC, o termo indígena aparece apenas uma vez. A categoria citada se refere à Ementa/Indígena e Sociedade Brasileira. Como exemplo, aponta-se a disciplina: 'as literaturas e o ensino de literatura'. Nela está descrito: "abordagens diferenciadas do ensino e da aprendizagem de literatura, bem como a sua integração com outras linguagens artísticas, a partir de obras que retratam a cultura negra e indígena brasileira e outras etnias formadoras da sociedade nacional" (PUC, 2013, p. 65). Vale ressaltar que a citação ocorre na ementa, mas não se desenvolve em aula, pois não há nenhum texto nas referências que versem a respeito da temática.
2. Curso: IFG – Licenciatura em Letras (2018)
No curso de licenciatura em Letras do IFG, o número de citações da palavra "indígena" ocorreu nove vezes. A categoria mais citada está na Ementa/Indígena e Sociedade Brasileira. Para exemplificar tais citações, demonstra-se o seguinte: "atualidade das questões étnico-raciais no Brasil: africanos, afrodescendentes e indígenas; identidade e etnias; aspectos do racismo no Brasil. Histórico e significado das políticas de ação afirmativa. O indígena e sua situação na sociedade brasileira, aspectos do movimento indígena; educação das relações étnico-raciais no Brasil: políticas e objetivos" (IFG, 2018, p. 116). Uma análise um pouco mais acurada demonstra que a maior parte das ocorrências acontece na ementa de Relações étnico-raciais e Cultura afro-brasileira e indígena. Foi observado que, diferentemente da questão africana presente na referência básica, a questão indígena aparece na bibliografia complementar com foco no indígena do período colonial, como observado na referência: "ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013 (p. 116)" (IFG, 2018, p. 116).
3. Curso: UFG – Português (2014)
Nesse curso, a palavra "indígena" aparece 13 vezes. A categoria mais citada se refere a Ementas/Estudos linguísticos. Aqui também há uma disciplina optativa, "língua e cultura" e sua ementa é "a língua nos diferentes contextos culturais. As teorias estruturalista e relativista de língua e cultura. Contato entre línguas e sua atualização. As sociedades indígenas, quilombolas e de imigrantes, suas línguas e culturas. Multilinguismo e bilinguismo. Educação intercultural" (UFG, 2014, p. 62).
Nesse curso há uma referência: "MATTOSO, Câmara Jr. Introdução às línguas indígenas brasileiras. 3ª ed. Rio de janeiro: Ao livro técnico, 1977, p. 1-97" (UFG/Português, 2014, p. 63). Numa leitura mais acurada, notou-se que nas 13 citações da palavra indígena, nove estão na área da Linguística em uma disciplina optativa, "linguística antropológica".
4. Curso: UFG – Estudos literários (2014)
Aqui, a palavra indígena aparece três vezes e a categoria mais citada é a de Legislação ou Parecer CNE. O que pode ser observado na seguinte ilustração: "para atender às demandas legais (Lei n°10.639/2003, alterada pela Lei n°11.465/2008 e as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana e indígena), em todos os projetos pedagógicos das licenciaturas oferecidas pela faculdade de Letras há a disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa" (UFG/Estudos Literários, 2014, p. 10).
Fato é que ao se analisar todos os exemplos do PPC, o termo pesquisado em estudos literários faz referência apenas à legislação e não volta a se repetir em nenhuma disciplina obrigatória ou optativa.
5. Curso: UFG – Linguística - 2014
Seria esperado que o número do termo indígena fosse superior aos dos demais cursos. De fato, ele aparece 24 vezes, sobressaindo-se em relação aos anteriores. No entanto, também nas optativas a categoria mais citada foi Ementas/Estudos linguísticos. Para exemplificar: "o curso leva em conta, principalmente, a Língua Portuguesa e a Cultura brasileira, as línguas indígenas do território nacional, e também sem perder de vista estudos de outras línguas, como o Inglês, o Espanhol, o Francês e o Italiano, línguas essas ministradas na faculdade de Letras" (UFG/ Linguística, 2014, p. 2).
Nesse caso, colocou-se apenas uma citação na apresentação do curso no PPC, porque ela descreve bem o quadro em que aparece o tema indígena no documento. Das 24 vezes em que o termo indígena é mencionado, 14 são em disciplinas optativas de Linguística e 10 em obrigatórias de Linguística.
6. Curso: UFG - Inglês - 2014
No curso de Inglês, a citação da palavra "indígena" ocorre apenas duas vezes. Também nele a categoria mais citada é Legislação ou Parecer CNE.
Como exemplificação, pode-se observar a seguinte citação: "para atender às demandas legais (Lei n°10.639/2003, alterada pela Lei n°11.465/2008 e as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana e indígena), em todos os projetos pedagógicos das licenciaturas oferecidas pela faculdade de Letras há a disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa" (UFG/Inglês, 2014, p. 10). Todas as ocorrências do termo pesquisado em Letras/Inglês fazem referência apenas à legislação e não voltam a se repetir em nenhuma disciplina obrigatória ou optativa.
7. Curso: UFG - Espanhol (2014)
Nesse curso, o número de citações da palavra "indígena" ocorre quatro vezes e a categoria mais citada refere-se à Legislação ou Parecer CNE.
Uma amostra disso está em: "para atender às demandas legais (Lei n°10.639/2003, alterada pela Lei n°11.465/2008 e as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana e indígena), em todos os projetos pedagógicos das licenciaturas oferecidas pela faculdade de Letras há a disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa." (UFG/Espanhol, 2014, p.11). Todas as ocorrências do termo pesquisado em Letras/Espanhol fazem referência apenas à legislação e não voltam a se repetir em nenhuma disciplina obrigatória ou optativa.
8. Curso: UFG - Francês (2014)
No curso de Francês, a palavra indígena aparece quatro vezes, sendo que a categoria Legislação ou Parecer CNE é a mais citada e se repete como no curso anterior.
Aqui o exemplo é idêntico ao anterior, numa clara observação que é uma repetição que ocorrem em todos os cursos "para atender às demandas legais (Lei n°10.639/2003, alterada pela Lei n°11.465/2008 e as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana e indígena), em todos os projetos pedagógicos das licenciaturas oferecidas pela faculdade de Letras há a disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa" (UFG/Francês, 2014, p. 11). Todas as ocorrências do termo pesquisado em Letras/Francês fazem referência apenas à legislação e não volta a se repetir em nenhuma disciplina obrigatória ou optativa.
9. Curso: UFG - Libras (2014)
No curso de Libras, a palavra "indígena" aparece oito vezes e a categoria mais citada é a de Legislação ou Parecer CNE. Aqui também o excerto para ilustração é idêntico ao anterior. Do mesmo modo que os antecedentes, os momentos em que a questão indígena é citada mais vezes e com mais ênfase estão ligados a alguma norma, citando a legislação ou tratando um parecer CNE.
10. Curso: UFG - Tradução e Interpretação em Libras/Português (2014)
No curso de tradução, a palavra "indígena" é citada dez vezes e, novamente, a categoria mais citada é Legislação ou Parecer CNE e a Ementa/Indígena e Sociedade Brasileira. Também há a opção de disciplina optativa. Aqui já se pode trazer outro exemplo: "conceitos de preservação ambiental nas literaturas de tradição oral de culturas indígenas e africanas: cultura, educação e literatura nas sociedades ágrafas. Recolha e registro de textos de tradição oral. Cultura e literatura de povos indígenas do Brasil. Cultura e literatura de povos africanos no Brasil. Conceitos de preservação ambiental em mitos indígenas e africanos" (UFG/Tradução, 2014, p. 30). No referido curso, há novamente a prevalência das citações em relação à legislação e em relação a uma disciplina optativa.
A partir das informações dispostas e pormenorizadas na sua categorização é possível chegar a algumas conclusões em relação aos cursos de Letras analisados:
É evidente que as instituições possuem clareza acerca da Lei n°11.645/08, uma vez que nove, dos dez cursos abordados, citam em seus PPCs a temática indígena. Entre os documentos, somente o do IFG aborda o objeto supracitado nas referências de alguma disciplina fora da área de estudos linguísticos em uma disciplina obrigatória, mesmo assim sem destaque, uma vez que o foco principal é a Literatura Africana.
A maioria dos casos de abordagem representada nas categorias expostas é atrelada a alguma norma, seja a legislação ou as diretrizes advindas do CNE.
O segundo maior destaque explícito é em relação aos estudos linguísticos que se aprofundam na análise das línguas, no entanto, no desdobramento da ementa, não se percebe um olhar para as culturas que constituem o ser indígena, sua história, sua visão de mundo e seus conhecimentos.
No curso Tradução e Interpretação em Libras/Português, a disciplina Conceitos de Preservação Ambiental nas Literaturas de Tradição Oral de Culturas Indígenas e Africanas traz já no título a referência à Literatura Indígena. Contudo, observando as referências da disciplina, nela não há indicação de obras de autores indígenas. Isso é uma contradição, pois trata-se de uma literatura produzida pelos próprios indígenas. Os textos referidos tanto nas referências básicas como nas complementarem tratam de narrativas africanas.
É evidente o apagamento social que os povos originários estão sujeitos na sociedade, isso também se reflete na academia quando se observa a maneira como ela se estrutura e potencializa a exclusão por meio do silêncio materializado no currículo. Quer perceba ou não, não há neutralidade no discurso, pois o silêncio também fala (Orlandi, 1995). Espera-se que por ser uma instituição de Ensino Superior um ambiente de construção do pensamento crítico e consciência social, que a discussão ocorra e possibilite alguma mudança no sentido de combater a hegemonia eurocêntrica, abrindo espaço para saberes-outros.
De modo a colaborar com a discussão, apresentam-se algumas obras indígenas que podem ser facilmente acessadas e estudadas pelos docentes e estudantes interessados pela temática.
Obras de autoria indígena para trabalhar em sala de aula
O tópico introdutório deste texto traz o artigo de Graça Graúna. Um dos aspectos discutidos nele é o desafio de se trabalhar a História e a Cultura indígena na escola sob a perspectiva dos próprios indígenas. As respostas às entrevistas apontam a problemática da pequena quantidade de materiais didáticos e produções literárias existentes. É um texto importante para uma aproximação com a temática.
Além do artigo, sugere-se a leitura de obras literárias indígenas que podem ser bem úteis para discussões em sala de aula em abordagens com temas transversais, não só no dia dos povos indígenas, mas durante o ano todo. Assim, pode-se pensar na perspectiva da importância de descentralizar o conhecimento europeu, enfatizando as riquezas culturais e os conhecimentos próprios da nação brasileira.
- Tempo de Histórias, de Daniel Munduruku. Nesse livro o autor percorre as narrativas de cosmologia Munduruku e suas experiências como professor na Educação Básica, proporcionando aprendizagem e reflexão do processo de ensinar-aprender. Daniel Munduruku é uma forte liderança indígena na contemporaneidade, atualmente um dos principais escritores de literatura indígena no Brasil, com um número grande de obras publicadas. Além disso, é professor PhD em Literatura, ator e ativista indígena originário do povo Munduruku.
- A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Esse é um livro de imersão intercultural, com capítulos curtos e desenhos simples e simbólicos. A escrita é atravessada pela cosmovisão indígena, com elementos completamente diferentes das narrativas eurocêntricas. Um elemento, em especial, dá a esse livro um grande diferencial: a história do branco contada a partir de um pensamento-outro. Kopenawa também fala das crenças, dos valores e da história do homem branco. Deixa marcado o vazio existencial que existe no que chama de "povo da mercadoria", que vive a dispor de um tempo inventado, indiferente ao tempo das estações, dos ciclos lunares e que decide matar o espírito da grande mãe natureza apenas para satisfazer os seus desejos.
- Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Fruto de uma palestra, esse texto tem finalidade reflexiva e aborda questionamentos referentes à atual conjuntura social capitalista: a maneira de o homem moderno existir no mundo. Além disso, aborda a questão dos impactos ambientais insustentáveis a longo prazo e decorrentes desse modo de viver, pautado na exploração da terra e do homem, onde a existência é voltada ao consumo e à mercadoria. Krenak é uma importante liderança e referência na Filosofia, assim como na luta política pela garantia dos direitos indígenas. Foi uma das principais figuras responsáveis por impactar o plenário, garantindo na constituição de 1988 os direitos indígenas. É o primeiro representante indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.
- A Terra dos Mil Povos, de Kaká Werá Jecupé. Esse é um excelente material para trabalhar a decolonização da História do Brasil. O autor traz a narrativa da história brasileira pelo ponto de vista dos indígenas. Além do aspecto crítico presente na obra, ela também é atravessada por narrativas indígenas de caráter epistemológico e cultural. É de uma leitura leve, fluida e de fácil compreensão para qualquer leitor.
- Coração na Aldeia, Pés no Mundo, de Auritha Tabajara. É um livro de cordel com xilogravuras. As temáticas e narrativas são do povo Tabajara, passadas pela avó da autora. Auritha é a primeira mulher indígena no Brasil a publicar cordéis. Ela é professora e contadora de histórias. Tem seus livros no acervo da maior biblioteca do mundo, a do Congresso dos Estados Unidos, localizada em Washington.
- Literatura Indígena Brasileira Contemporânea: Criação, Crítica e Recepção. São vários autores. Trata-se de uma coletânea de diversos autores indígenas, com temáticas variadas. É um livro virtual e gratuito que traz muita riqueza acerca de cosmovisões diversas, juntamente com um posicionamento crítico e militante, necessário para o desenvolvimento da consciência necessária para uma cidadania diversa, inclusiva e respeitosa para com os povos originários. Disponível em: https://www.editorafi.org/438indigena.
- Literatura Indígena Brasileira Contemporânea: Autoria, Autonomia, Ativismo. São vários autores. É uma coletânea de diversos autores indígenas com temáticas variadas. Livro virtual e gratuito que traz muita riqueza acerca de diversas cosmovisões que compõem o país, juntamente com um posicionamento crítico e ativista, necessário para o exercício de uma cidadania diversa, inclusiva e respeitosa para com os povos originários. Disponível em: https://www.editorafi.org/765indigena.
- O caráter educativo do Movimento Indígena Brasileiro, de Daniel Munduruku. Excelente livro para trabalhar a história política dos povos indígenas do Brasil, fruto de uma extensa pesquisa cujo foco explica a trajetória de resistência dos povos originários, apesar de toda violência imposta contra eles. É descrita a evolução do modo como os povos se organizaram politicamente para a conquista de direitos constitucionais e para a criação de órgãos indigenistas que atendessem às demandas das aldeias.
Conclusão
Os dados levantados e analisados no decorrer da pesquisa deixam em evidência o fato de que as instituições de Ensino Superior estão cientes da legislação, o que é muito positivo, pois é o primeiro passo em direção à aplicabilidade, porém, em nenhum dos documentos das dez licenciaturas analisadas, foi encontrada a presença da Literatura Indígena como disciplina obrigatória. Isso demonstra a necessidade de continuar a levantar a pauta para que as instituições reformulem seus projetos.
Há de se questionar por que os currículos são como são. Para isso, Walsh (2009) instrui uma prática de pedagogia decolonial, pautando-se na interculturalidade crítica que promove o contato com conhecimentos outros, juntamente com a prática do pensamento de fronteira. Mignolo (2008, p. 252) ressalta que o "o pensamento fronteiriço é o método do pensamento e a opção decolonial".
Enfim, para Walsh (2009), assumir uma ação decolonial pressupõe visibilizar as lutas contra a colonialidade a partir das pessoas, das suas práticas sociais, epistêmicas e políticas, o que coaduna com Tubino (2005, p. 3) que expõe: "não temos de começar pelo diálogo, mas sim pela questão sobre as condições do diálogo" (em tradução livre).
Portanto, essa reflexão é necessária para as problematizações que promovem mudanças estruturais. Um exemplo é o projeto de pesquisa aqui analisado, pois ele gerou discussão em relação à inserção da temática indígena no curso de Letras do IFG/ Goiânia. Os questionamentos, por parte dos alunos da graduação, implicaram uma movimentação que atingiu os docentes efetivos do campus de forma que organizaram, a partir de 2023/01, uma disciplina na matriz curricular obrigatória para o estudo de Literatura Indígena. Até o momento a oferta está na modalidade PCC (Práticas como Componentes Curriculares) devido ao fato de que essa modalidade permite alterações da ementa de acordo com as demandas que vão surgindo. Assim, essa foi uma medida tomada pelos docentes e pela coordenação da Letras IFG, trazendo para dentro do currículo de Letras do IFG a temática indígena e a literatura produzida pelos indígenas.
Todo esse movimento foi de extrema importância para a comunidade acadêmica, pois agora há Literatura Indígena em uma disciplina obrigatória do curso. O próximo passo é reestruturar o Projeto de Curso a fim de que ela deixe de ser ofertada na modalidade PCC para compor a matriz obrigatória como "Literatura Indígena". Desse modo, garantimos o direito de os alunos terem acesso e formação adequados na responsabilidade que lhes é imputada como profissionais da Educação.
Referências
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.
BANIWA, Gersem. Educação escolar indígena no Brasil: avanços, limites e novas perspectivas. s/d. Disponível em: http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_encomendados/gt21_trabalhoencomendado_gersem.pdf. Acesso em: 15 abr. 2022.
BANIWA, Gersen dos Santos Luciano. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje. Brasília: MEC/Secad, Museu Nacional, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 27 maio 2022.
BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-brasileira", e dá outras providências. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 12 jan. 2023.
BRASIL. Lei n° 11.645/2008, de 10 de março de 2008. Altera a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Diário Oficial da União, Brasília, 11 mar. 2008.
CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antônio. Vários Escritos. 5ª edição, corrigida pelo autor. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011.
COLL, Liana. MENEZES, Adriana Vilar. Situação dos Yanomami expõe abandono dos indígenas pelo Estado. UNICAMP. 24, jan. 2023. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2023/01/24/situacao-dos-yanomami-expoe-abandono-dos-indigenas-pelo-estado. Acesso em: 7 ago. 2023.
DIRETÓRIO DOS ÍNDIOS. 1757. Disponível em: https://www.nacaomestica.org/diretorio_dos_indios.htm. Acesso em: 22 maio 2022.
DORRICO, Julie; DANNER, Leno F.; CORREIA, Heloisa H. S.; DANNER, Fernando (org.). Literatura Indígena Brasileira Contemporânea: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Fi, 2018. Disponível em: https://www.editorafi.org/438indigena. Acesso em: 10 mar. 2022.
DORRICO, Julie; DANNER, Leno F.; DANNER, Fernando (org.). Literatura Indígena Brasileira Contemporânea: autoria, autonomia, ativismo. s/d. Disponível em: https://www.editorafi.org/765indigena. Acesso em 4, nov. 2022.
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO. Quase 90% das línguas indígenas brasileiras foram extintas e as que restam estão ameaçadas. jul. 2016. Disponível em: https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2016/04/de-1500-linguas-Lindigenas-no-descobrimento-restaram-181-todas-ameacadas-aponta. Acesso: 21 maio 2022.
FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Trad. José Laurêncio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI). Quem são. Nov. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/quem-sao. Acesso em: 21 maio 2022.
GRAÚNA, Graça. Educação, literatura e direitos humanos: visões indígenas da Lei nº 11.645/08. Educação & Linguagem, v. 14, n° 23/24, 231-260, jan./dez. 2011.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Território brasileiro e povoamento. s/d. Disponível em: https://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena/os-numeros-da-populacao-indigena.html. Acesso em: 20 maio 2022.
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (IFG). Projeto pedagógico do curso Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa. Goiânia, 2018. Disponível em: http://cursos.ifg.edu.br/info/lic/lic-letras/CP-GOIANIA. Acesso em: 15 jan. 2023.
JECUPÉ, Kaká W. A terra dos mil povos: História indígena brasileira contada por um índio. São Paulo: Peirópolis, 1998.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami. Trad. Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
KRENAK, Ailton. O modo de funcionamento da humanidade entrou em crise. [Entrevista concedida a] Bertha Maakaroun. O Estado de Minas, Belo Horizonte, 3 de abril de 2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/pensar/2020/04/03/interna_pensar,1135082/funcionamento-da-humanidade-entrou-em-crise-opina-ailton-krenak.shtml. Acesso em: 18 jan. 2022.
MATTOSO CÂMARA Jr, J. Introdução às línguas indígenas brasileiras. 3ª ed. Rio de janeiro: Ao Livro Técnico, 1977.
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.
MIGNOLO, Walter D. La opción decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso. Tabula Rasa, Bogotá, n° 8, p. 243-282, 2008.
MINAYO, M. C. de S. O desafio da pesquisa social. In: MINAYO, Maria Cecília de S. (org.); DESLANDES, S. F.; GOMES, R. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2016. (Série Manuais Acadêmicos).
MUNDURUKU, Daniel. Entre a cruz e a espada: a presença missionária em terra indígena e o Estado Laico. In: MUNDURUKU, Daniel et al. Filosofia e Educação: Estudos 2. São Paulo: Factash, 2007. p. 19-27. Disponível em: http://www2.fe.usp.br/~cemoroc/FILOSOFIA02.pdf. Acesso em: 19 maio 2022.
MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-1990). São Paulo: Paulinas, 2012.
MUNDURUKU, Daniel. Antologia de contos indígenas de ensinamento. PIETRO, Heloísa (org.). Tempo de histórias. São Paulo: Moderna, 2005.
ORLANDI, Eni. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 3ª ed. Campinas: Ed. Unicamp, 1995.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC). Projeto Pedagógico do Curso de Letras. Goiânia, 2013. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
SARTRE, Jean Paul. Apresentação. In: FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Trad. José Laurêncio de Melo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
TABAJARA, Auritha. Coração na aldeia, pés no mundo. Lorena: UK'A Editorial, 2018.
TORRES, Nelson Maldonado. Sobre la colonialidad del ser: contribuiciones al desarrollo. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (org.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Universidad Central – Iesco; Siglo del Hombre, 2007.
TUBINO, Fidel. La interculturalidad crítica como proyecto ético-político. In: ENCUENTRO CONTINENTAL DE EDUCADORES AGUSTINOS. Lima, ene. 2005. Disponível em: http://oala.villanova.edu/congresos/educación/lima-ponen-02.html. Acesso em: 9 out. 2022.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Estudos literários. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Espanhol. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Português. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Francês. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Inglês. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Libras. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Linguística. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG). Projeto Pedagógico do Curso de Letras: Tradução e Interpretação em Libras/Português. Goiânia, 2014. Disponível em: https://letras.ufg.br/p/296-projeto-pedagogico. Acesso em: 15 jan. 2023.
WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir, re-viver. In: CANDAU, V. M. (org.). Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.
Publicado em 15 de janeiro de 2025
Como citar este artigo (ABNT)
CINTRA, Ema Marta Dunck; SILVA, Fabricia Nayara Barreto da; ANAKÃN, Mariany Aline Pereira Santos We'ena. A importância da Literatura Indígena no currículo dos cursos de licenciatura em Letras. Revista Educação Pública, Rio de Janeiro, v. 25, nº 2, 15 de janeiro de 2025. Disponível em: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/25/2/a-importancia-da-literatura-indigena-no-curriculo-dos-cursos-de-licenciatura-em-letras
Novidades por e-mail
Para receber nossas atualizações semanais, basta você se inscrever em nosso mailing
Este artigo ainda não recebeu nenhum comentário
Deixe seu comentárioEste artigo e os seus comentários não refletem necessariamente a opinião da revista Educação Pública ou da Fundação Cecierj.

